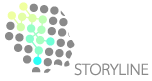Autor da história: Maria Amaral
Quem conta a história: Anónimo
Organização: ULHT
Título: Uma estrada a que devo chamar casa
Nível: Avançado
Língua: Português
Resumo: O percurso de vida de uma mulher que nasce em África, numa antiga colónia portuguesa, e que devido à guerra se vê obrigada a fugir do seu país e do seu continente. Assistimos à sua luta para sobreviver e dar à família uma vida digna.
Palavras-chave: África, guerra, mudança, adaptação, luta
A história que vos conto vai para lá de caminhos de ferro, além terra e além-mar, conta memórias de criança, acontecimentos inexplicáveis e rostos esborratados. No ano em que a Luísa nasceu, 1968, o mundo apresentava cores diferentes, o sangue fervia nas colónias, debaixo de um véu ditatorial e opressor. Movimentos e partidos políticos surgiam por todas as colónias e em breve o que se falava tornar-se-ia realidade, ansiava-se liberdade. Para lá de desertos e florestas existe uma terra fascinante, Lourenço Marques, onde as cores são mais garridas, a vida tem mais alegria, e os sonhos de criança ficaram. Quem hoje procure esta terra maravilhosa num mapa, apenas achará lembranças de cabeças grisalhas e nomes há muito esquecidos, no seu lugar escreve-se Maputo, capital de Moçambique. Para a Luísa é a terra de cheiros intensos e boas memórias, jacarandás em flor rua abaixo e rua acima, praias de água quente e cristalina, com areais de perder de vista, jantares de família recheados de música e boa companhia, e passeios despreocupados.
Nascera no berço de uma família de classe média à beira do divórcio. O pai, madeirense de gema, fora deslocado depois da tropa e por lá ficara a trabalhar como gerente de um banco, no mesmo edifício onde vivia. A sua mãe, intelectual e recheada de diplomas do colégio interno de freiras na Rodésia, tinha nascido em Nova Lisboa, Angola, e aos 18 anos tinha casamento arranjado com um homem 15 anos mais velho que nunca conhecera, mas a sua mãe achara bom e adequado para a filha mais velha de três. O casal tinha já duas filhas, com dois anos de diferença, quando cinco anos depois nasce a Luísa, já a sua mãe sonhava em divorciar-se contra tudo e todos para descobrir a vida pelos seus próprios olhos. Esperou dois anos até ganhar coragem e, para grande desgosto do marido que sempre a amou, separou-se e levou as três meninas para uma casa onde as memórias são vagas, espaços de tempo cravados na mente, rezar de joelhos antes de dormir, usar o aparelho de endireitar os joelhos, andar de triciclo à frente de casa e jogar ao lencinho e à macaca.
Não tanto tempo depois a mãe apaixonara-se, e com ele ficara durante dez anos. A casa para onde foram viver era maior, num prédio alto, numa rua que não desperta memória do nome, mas que tinha as tais flores roxas e lapas, que forravam os largos passeios como tapetes de veludo, por onde caminhara quilómetros a fio com a ama indiana que a mãe tirara das ruas para cuidar delas. A presença da ama era constante, ensinada pela criada de quartos, tinha como responsabilidades cuidar das tarefas do dia-a-dia e das meninas. Jantava com a família e acompanhava regularmente às idas ao Drive In, onde as meninas iam de pijama vestido, enterradas em casacos e gorros. Na escola de sonho, vestida igualzinha às irmãs, a vaidade era muita, mas o fascínio sempre fora a casa de bonecas gigante onde brincava e o descampado onde saltava e corria até a ama chegar para a levar. Com o pai, aos fins de semana, seguiam para praias maravilhosas em Moçambique e arredores, como a praia Xai-Xai no Sul. À noite, as irmãs mais novas teimavam em dormir agarradinhas ao pai, apesar da casa ter quartos para todas com camas e pertences individuais, mas o tempo era escasso e o aconchego do pai era preferível. As fotografias, que a Luísa ainda hoje guarda, captavam momentos de alegria, brincadeira, e os pequenos-almoços que faziam as delícias das irmãs.
Em 1974, o cenário muda, tinha a Luísa apenas seis aninhos, e nos seus olhinhos de criança a confusão era muita. Roupas empacotadas, caixotes cheios de coisas, cortinas corridas, tecidos pretos às janelas, um camião enorme com contentores à porta de casa e todos debaixo da mesa no que a Luísa pensava ser um jogo de quarto escuro enquanto os barulhos à noite eram ensurdecedores e as sirenes soavam mais do que o habitual. Soube a Luísa, anos depois, que alguém do banco onde a mãe trabalhava denunciara que ela se recusara a ir a um comício da Frelimo, partido de Libertação de Moçambique e que por isso ia ser presa. Fora uma semana tortuosa, ver as lágrimas na cara dos criados, a ama sem documentos que desesperava, o cozinheiro de longa data que não os podia acompanhar, a mala de cânfora onde iam roupas, escolhas de bonecos, e a Luisinha que segurava no seu urso preferido que a acompanhou vida fora. Os contentores desapareceram e começaram as despedidas, o cachorrinho, a ama e o cozinheiro ficaram em casa de uns amigos, o pai ia com as irmãs mais velhas de avião para a África do Sul, enquanto a Luísa seguia com a mãe, o padrasto e o filho rumo à Rodésia, porto seguro da mãe, num Peugeot carregado de malas e um maldito candeeiro de pé. O descanso era breve, em hotéis variados, que só serviam para dormir e comer até chegarem à fronteira onde foram revistados. Todos encostados a uma parede enquanto o carro era esventrado e as malas passadas a pente fino à procura de não-sei-bem-o-quê, eram pedidas papeladas entre olhos cruzados. O urso que a Luísa tão preciosamente carregava foi atirado pelo ar e a Luísa, furiosa e num pranto bateu no guarda, resultando num empurrão contra o carro, um joelho queimado no escape e uma queda no alcatrão quente. O ressentimento era muito na criança segurada pela mãe desesperada, “um preto fazer-nos mal depois de vivermos com eles e de os termos em casa a tratar de nós”, não lhe fora explicado o porquê ou o que se passava, pois, era apenas uma criança. Após deixarem passar a fronteira a celebração e alívio foi imensa, eram choros e risos, abraços apertados e sorrisos, tinham chegado à Rodésia.
A primeira paragem na Rodésia foi no convento que havia sido o colégio da mãe de Luísa, onde dispuseram uma cama fofinha com lençóis lavados, trataram do joelho que ardia da queimadura, ofereceram jantar à mesa com as freiras e uma noite silenciosa depois de tanta emoção. Dali partiram para Queensdale, nos arredores da capital onde ficaram a viver numa enorme casa térrea situada numa estrada em “U”, rodeada de floresta rasteira a perder de vista. O jardim, igualmente grande, tinha duas árvores altas para trepar, uma garagem e uma casa enorme em “L”. As memórias do relvado que chegava ao peito da pequena Luísa e da mãe que corria feliz pelo capim, trazem-lhe um sorriso ao rosto sempre que fala daqueles momentos e daquela casa, fora o seu sítio favorito. Enquanto o padrasto procurava emprego, o filho tratava das escolas para todos enquanto a mãe e a Luísa contratavam empregados, cozinheiro e criada. A memória da última, uma senhora enorme que aguentava com as três ao colo a correr pelo jardim fora, era a preferida da Luísa, doce, bem-disposta e meiga, era tão alegre que cantava todo o santo dia. Como a escola não tinha começado, as irmãs de Luísa continuavam na África do Sul, em casa da família do pai em Cape Town, ou da família da mãe em Pretória. O pai voltara para Moçambique com um tio para organizarem negócios e tirar alguns pertences que tinham. O avô materno entendia-se com o sistema e continuaria a gerir os caminhos-de-ferro e as fábricas de castanha de caju e cana-de-açúcar por muitos anos.
A mãe brilhava de alegria quando um dia, em pleno verão, viu um camião encostar em frente ao portão verde da casa e de lá de dentro saírem os contentores que vinham de Moçambique. Durante dias a fio descarregaram, desempacotaram e arrumaram tudo mesmo a tempo da chegada do pai com as irmãs a apitar desalmadamente no carro, chegados de África do Sul. As saudades apertavam, as lágrimas escorriam e sorrisos rasgados eram imagem de felicidade enquanto a mãe admirava o quanto as filhas haviam crescido até então. A casa tinha quatro quartos, as duas irmãs mais novas partilhavam um, a mais velha partilhava outro com uma filha do padrasto que tempos depois passara lá uma temporada, o filho do padrasto tinha um quarto só para ele e a mãe tinha uma suíte com o padrasto. O quarto extra acolhia visitas ou as costuras variadas da mãe. A cozinha, larga, era virada para as traseiras enquanto a sala se estendia sobre um relvado imenso com um jardim de rosas plantado pela mãe e de onde saiu um sapo enorme que mordia a vassoura da ama que tentava a todo o custo proteger as crianças. O despertador natural era o bebedouro onde os passarinhos tomavam banho de madrugada.
A escola começava em Queensdale e enquanto a irmã mais velha, já com algum inglês aprendido, seguia para o secundário, as irmãs mais novas seguiam a pé para a escola primária, não muito longe de casa. A escola enchia as delícias da Luísa, o espaço era enorme, lecionava da pré-primária ao 6º ano e a língua principal era o inglês, sendo que uma vez por semana era dada uma hora de português numa turma mista, de idades variadas. De manhã, no campo de futebol, os alunos juntavam-se para cantar o hino da Rodésia (hino da alegria), rezar e agradecer o dia que os esperava. Durante as aulas e os recreios, as irmãs raramente se cruzavam e as amizades que se formavam eram por gestos para se fazerem entender. Aos fins de semana, a escola organizava jogos entre as turmas com corridas em sacos de serapilheira, colheres de ovos, e obstáculos. Noutras vezes, os dias eram passados a jogar minigolfe, ou a apanhar caricas e garrafas que a receção trocava por dinheiro, gasto depois em guloseimas a caminho da escola.
Nas férias ou fins-de-semana prolongados partiam com amigos da mãe para Victoria Falls, para nadarem nos rios e lagos adjacentes onde, muitas vezes, se sentavam na borda da montanha a ver a queda de água lá em baixo. Faziam piqueniques, saltavam de trampolim e desciam cursos de água com boias de pneus de camião, até escurecer. Mais perto de casa, davam longos passeios pelo mato, a passar lagos e riachos e ocasionalmente eram surpreendidos por trovoadas secas, que faziam estalar o céu inteiro à nossa volta com rasgões de luz e som, a beleza era impressionante. Outrora menos belos eram os incêndios que infelizmente se seguiam, pois era comum que as trovoadas originassem fogos que forçavam a regar a casa e cerca para o fogo não lhes passar por cima. Os muitos que viviam no mato em palhotas vinham pedir guarida dias depois, só com a roupa no pelo, não ficavam por muito tempo. A mãe da Luísa dava-lhes roupas, guarida e comida na garagem e por vezes um cortava a relva ou apanhava fruta ou ajudava em qualquer necessidade da casa até refazer a vida e seguir em frente.
Dezoito meses depois, a estabilidade na Rodésia declinava, a mãe e o padrasto falavam em sair da Rodésia, mas enquanto a mãe queria ir para a África do Sul onde estava a avó e tios, para ter maior apoio familiar, o padrasto queria vir para Portugal onde estavam os filhos dele e a vida era melhor, dando azo a longas discussões. As festas organizadas pela mãe, que outrora enchiam a sala de música, tangos e valsas, ecoavam agora com os contentores que chegavam. Estava tudo empilhado uma vez mais, os abraços e as lágrimas de quem ficava para trás traziam um gosto amargo ao que já tinham passado. A criada preferida abraçava as três meninas e chorava com elas, pois tinha lá a sua vida e não as acompanharia. Os móveis e eletrodomésticos foram vendidos aos vizinhos e nas mãos restara apenas uma mala, rumo ao aeroporto de partida para Portugal. Nos sonhos da pequena Luísa, Portugal era o sítio onde estava o pai, tinha praias bonitas e neve, mas para lá chegar era necessário andar de avião. Nas suas memórias, o voo foi doloroso, enjoos e dores de ouvidos encheram as intermináveis doze horas, com a mãe, a tentar sossegar a Luísa com livros.
Luísa tinha sete anos quando pisou pela primeira vez o solo português, o bilhete simbolizava um retorno a casa e o cartão de identificação descrevia-a como portuguesa. Segundo a época, as colónias portuguesas faziam parte do mesmo estado, a mesma terra, e como colonizador, quem chegava a Portugal oriundo das colónias, era português. O rotulo era marcante, “Retornado”, se bem que Portugal nunca fora casa onde tivessem vivido. O aeroporto da Portela estava atulhado, ao rubro, o clima era quente naquele dia 1 de agosto de 1976, e o pai lá fora as esperava com sanduíches e sumos Compal de lata. No caminho para Santa Apolónia, entre os abraços de saudades e conversas cruzadas, era explicado que se apanharia o comboio para Aveiro, cidade onde iriam assentar, na casa do avô materno. A casa da Palmeira, segundo a mãe, era enorme, com um grande jardim para brincar e como o avô tinha várias empresas de cerâmica e outros negócios na região as oportunidades de vida eram maiores. As cinco horas de comboio sentadas nas malas estendiam-se por imagens de terras diferentes daquelas da Rodésia. Como a casa era perto da estação, seguiram o caminho a arrastar as malas até chegarem à casa, desolada, com vidros partidos, portas fechadas, cheia de capim à volta, imagem digna de uma casa de terror. Ainda hoje, aos mais atentos que apanhem o comboio que passa por Aveiro, é possível vislumbrar a enorme palmeira.
A casa assombrada tinha dois pisos, o de baixo, onde iriam ficar, era ocasionalmente habitado pelo avô quando vinha de Moçambique, enquanto o piso superior era habitado pela tia, um farrapo de gente, segundo a Luísa, casada com um “unhas-de-fome” que colecionava latas de conservas no andar de baixo na certeza de que Portugal iria entrar em guerra mais cedo ou mais tarde. A tia colecionava bonecas, que penteava, calçava, vestia e despia todos os dias. Alimentava dez gatos e outros tantos cães das redondezas entre as latas do marido no andar de baixo, deixando um odor pestilento no ar. A mãe chorava desalmadamente de desgosto, depois de uma tão longa viagem, por encontrar uma casa naquele estado, completamente inabitável, era de partir o coração. Foram então bater à porta de casa do tio-avô que morava lá ao lado e por lá jantaram e pernoitaram enquanto a mãe e o padrasto discutiam noite dentro. De manhã, apanharam o comboio rumo a Lisboa, “queria voltar para a Rodésia, não queria estar em Portugal”, em Portugal os olhares eram estranhos, e, assim abriam que a boca, eram mal tratados. Foram para casa de uma tia que tinha um quarto vago numa casa limpa e bem arranjada onde dormiram as três irmãs em duas camas e a mãe e o padrasto dormiam no sofá da sala. A Luísa morria de medo naquela casa, entre os barulhos assustadores dos elétricos que passavam, e a família que morava no andar de cima, cujo filho era “maluquinho”, escondido de todos, enclausurado num quarto sem ver a luz do dia, que passava os dias e noites a gritar e a bater com paus no chão. A roupa continuava nas malas, pois não tinham armários e a mãe saía de manhã para só voltar à noite depois de procurar casa, escolas e emprego.
Enquanto o pai procurava trabalho, vivia temporariamente em Cascais em casa de um casal amigo oriundo de Moçambique. As irmãs foram para lá primeiro e, mais tarde, a Luísa juntou-se a eles. A casa consistia numa moradia de três pisos com imensos quartos, garagem e jardim. A grande tristeza era que tinha de andar sempre calçada em casa e no jardim, mesmo com umas sandálias que o pai oferecera a tortura e ódio era tanto que até aos 30 anos não voltou a mostrar os dedos dos pés a ninguém. Entretanto, o padrasto arranjara emprego e um apartamento num rés-de-chão em Cascais que se inundava quando chovia, mas a mãe não teria a mesma sorte e o único trabalho que arranjara fora a servir às mesas, tirar cafés e lavar a loiça num restaurante. A senhora do andar de cima tomava muitas vezes conta da Luísa, dando-lhe roupas, sapatos e comida quando era possível. Todos os dias a mãe saía cedinho pela manhã e, como a casa era na rua abaixo, a Luísa seguia a pé, parando em casa de uma amiga que tinha uma casa de bonecas enorme e linda de morrer.
Um dia, não tanto tempo depois de se mudarem para outra casa a 2,5 quilómetros da escola, a amiga que regularmente lhe dava boleia, negou-lhe tal privilégio depois de uma zanga por algo que não se recorda. A Luísa rapidamente arranjou outra boleia, mas só ao cair da noite é que se lembrou que tinha de seguir para casa, pois não sabia o caminho, apenas se recordava de três garagens verdes lado a lado e um descampado em frente, com um talho de esquina. O resultado foi chegar a casa à meia-noite, para ser recebida pela mãe que lhe pregou uma sova tal fora o susto. A casa arrendada era espaçosa, com um quarto grande com roupeiro, onde dormiam as três, um quarto para a mãe virado para as traseiras, uma sala com casa de jantar, cozinha, casas de banho. Tinha também um sótão e uma arrecadação que era um T0 habitável. Nessa altura, o padrasto deixara de trabalhar por ter uma hérnia discal e o dinheiro começou a faltar, o pequeno-almoço, almoço e jantar eram papas de aveia, ou com sorte, alguns restos que alguém no restaurante deixara ficar na travessa. A roupa era passada de mão em mão, ou com sorte, comprada em saldos no Mercado das Pulgas, a mãe emagrecera e vivia à base de papas de aveia e cafés, o leite era em pó e muito racionado, mas para o padrasto trazia sempre algo, como um bife do lombo que ele atirara à parede e gritara que não comeria dos restos dos outros. A mãe chorava de tristeza e raiva e as irmãs mais velhas correram com ele de casa para nunca mais voltar.
A fome que passaram e as muitas privações com os tempos foram melhorando, não por qualquer apoio do Estado, mas porque a mãe começara a fazer trabalhos temporários e traduções para embaixadas e o pai mandava cabazes mensais com conservas e leguminosas que eram racionados para render até ao mês seguinte. Os sapatos que deixavam de servir, eram cortados à frente para os dedos saírem de fora, enquanto a mãe imaginava que os flocos de aveia eram pratos elaborados de peru e bacalhau. No Natal, quando não eram dadas conchas e pedras pintadas, embrulhavam brinquedos que já tinham e que eram uma vez mais dados, como novos. A vida em Portugal mostrara ser ríspida e restringida, mas por cá fez as maiores amizades, construiu família e continua até aos dias de hoje. Os tempos de criança muito lhe ensinaram e, por muito amargas que sejam as memórias, o travo de realização de vida supera qualquer outro sonho de criança.